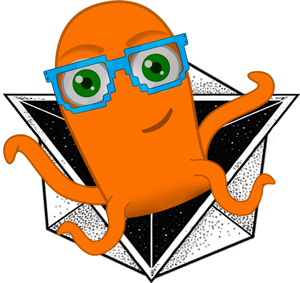Nota
Nem todo filme de herói precisa depender de cenas grandiosas ou de explosões descontroladas para marcar o público. Em um universo já saturado por narrativas previsíveis e personagens reciclados, há algo de refrescante em acompanhar uma história que se permite desacelerar para olhar de perto as feridas emocionais dos seus protagonistas. Não é o tipo de abordagem que esperamos de uma franquia que normalmente privilegia o espetáculo, mas justamente por isso, Thunderbolts* tem o mérito de tentar algo diferente.

No centro da narrativa está um grupo formado por anti-heróis, figuras que carregam cicatrizes tanto físicas quanto psicológicas. São personagens já conhecidos do público, mas nunca verdadeiramente explorados em profundidade. Agora, reunidos sob uma liderança questionável e um objetivo moralmente ambíguo, precisam confrontar não apenas uma ameaça externa, mas principalmente os fantasmas do passado que continuam a assombrá-los. O resultado é uma trama que se aproxima mais de uma sessão de terapia em grupo do que de uma missão tradicional.
A atuação de Florence Pugh, mais uma vez como Yelena Belova, é o coração do filme. Carregando tanto a comédia quanto o drama com igual habilidade, Pugh transforma cada cena em um estudo de personagem. Sua versão da Viúva Negra está longe de ser apenas uma sucessora da original; ela se impõe como uma figura com identidade própria, vulnerável, sarcástica e repleta de camadas. É através dela que o público se conecta emocionalmente com os demais integrantes da equipe, cada qual enfrentando um vazio interno diferente.
Mas se Pugh é o elo emocional da trama, Lewis Pullman é, sem dúvida, a grata surpresa do elenco. Interpretando Bob, também conhecido como Sentinela, Pullman impressiona ao equilibrar com precisão as três camadas que compõem seu personagem: o homem comum amnésico, o super-herói de poder descomunal e a entidade aterradora conhecida como O Vácuo. Sua presença em cena é magnética, transitando do afeto confuso à ameaça silenciosa em questão de segundos. Poucos atores conseguiriam transmitir com tanta eficiência a fragilidade e o perigo em um mesmo gesto, e Pullman o faz sem recorrer à caricatura.

Julia Louis-Dreyfus, como Valentina de Fontaine, tem a oportunidade de explorar uma versão mais sombria de seu humor habitual. Sua personagem se posiciona como uma antagonista sutil, cujo verdadeiro poder está em manipular os outros com a calma de quem já viu o caos de perto e aprendeu a lucrar com ele. A atriz consegue equilibrar sarcasmo e frieza, oferecendo uma performance que não busca dominar a cena, mas que a contamina com sua presença.
Sebastian Stan retorna como Bucky Barnes, o Soldado Invernal, mas infelizmente é um dos personagens que menos tem espaço para brilhar. Reduzido a funções práticas e poucas interações significativas, Bucky acaba sendo um elo fraco da equipe, podendo ser facilmente substituído por outro personagem que talvez oferecesse mais potencial narrativo para o universo da Marvel. É uma escolha que decepciona, considerando a carga dramática que o personagem acumulou ao longo dos anos.
David Harbour retorna como Guardião Vermelho, pai adotivo de Yelena e uma espécie de alívio cômico involuntário. Apesar de seu tom mais leve, o personagem também tem momentos de profundidade inesperada, especialmente quando confrontado com sua incapacidade de proteger aqueles que ama. Harbour se equilibra bem entre o grotesco e o comovente, ampliando o arco de redenção iniciado em Viúva Negra.

Wyatt Russell como John Walker, o Agente Americano, talvez represente a figura mais instável do grupo. Marcado por seus erros passados e por uma moralidade vacilante, Walker transita entre o desejo de fazer o certo e a tentação de voltar a caminhos violentos. O roteiro não o redime completamente, mas lhe dá espaço para mostrar complexidade. Russell aproveita a chance para aprofundar o personagem, com olhares e hesitações que revelam um homem em conflito constante.
As sequências de ação, como era de se esperar em uma produção da Marvel, estão presentes e funcionam bem. Destacam-se uma caçada no deserto com veículos em alta velocidade e uma luta a quatro no primeiro ato que remete às melhores coreografias de lutas da franquia. Mas o que surpreende é como o filme opta por não se apoiar unicamente nesses momentos para manter o interesse. A narrativa privilegia o conflito interno, as conversas em silêncio, os olhares que dizem mais do que as explosões.
Apesar de suas qualidades, Thunderbolts* deixa a incômoda sensação de que falta algo — mas sem que seja possível apontar exatamente o quê. Há uma expectativa legítima em torno do momento em que o grupo finalmente se depara com o Sentinela, mas, ao invés de uma catarse ou uma amostra definitiva de seu poder, o filme recua. O potencial do personagem permanece apenas insinuado, o que pode soar como frustração para o espectador, que gostaria de saber até onde o super-humano mais poderoso da Terra pode alcançar “tendo o poder de 10 milhões de sóis explodindo”. O tom também oscila entre o drama existencial e o humor, em uma tentativa de equilibrar leveza e profundidade que, embora compreensível, nem sempre funciona.

Apesar dessas oscilações, o saldo final é positivo. O filme aposta em personagens quebrados e os coloca para interagir sem que a narrativa precise correr para algum evento maior do MCU. Essa escolha de contorno mais autônomo dá à obra um fôlego próprio, permitindo que ela se sustente por mérito e não apenas por conexões. Quando termina, Thunderbolts* deixa a sensação de ter presenciado algo diferente: um filme de heróis mais introspectivo, que trata seus personagens com respeito e permite que suas dores falem tanto quanto seus punhos. E fiquem para assistir as duas cenas pós-crédito.
Victor Freitas
Pernambucano, jogador de RPG, pesquisador nas áreas de gênero, diversidade e bioética, comentarista no X, fã incontestável de Junji Ito e Naoki Urasawa. Ah, também sou advogado e me arrisco como crítico nas horas vagas.